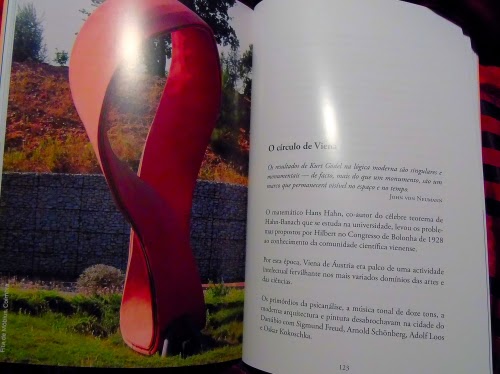Até não há muito -- talvez até antes de haver uma concorrência desmedida entre os canais de televisão, nomeadamente os de cabo que têm que manter as emissões em contínuo e deitam a mão a tudo o que é gato-sapato, ou até ao advento das redes sociais que vieram dar a voz a tudo e a todos por mais ignorantes e estúpidos que sejam -- só era dada oportunidade de se pronunciar em público a quem reunia um mínimo de características positivas que os fizessem distinguir do comum dos mortais. Tinha que se ser gente de cultura, com alguma coisa a acrescentar, para se poder chegar a um púlpito e falar para as massas.
Agora não. Veja-se Marcelo que, num dos seus momentos de deriva populista, chamou a discursar no 10 de Junho o João Miguel Tavares. Anedótico. E tal como a Assembleia da República é agora lugar em que um bando de grunhos tem assento, também as televisões se enxameiam com gente desqualificada. Vejam-se os Big Brothers desta vida, os programas de comentário do 'social' e muitos outros. E veja-se a cambada que invade os youtubes.
Quando os meus netos cá estão, quando se póem a ver televisão, o que eles gostam de ver são youtubers ordinários a comentarem jogos ou parvoíces, a dizerem toda a espécie de disparates. Por mais que se tente impedi-los é por isso que eles se sentem atraídos. E imagino que os tiktoks desta vida estejam também pejados de porcarias idênticas. A mim, no instagram, não me aparece disso porque o algoritmo percebe que gosto de outras coisas e não me mostra grunhices mas, fosse eu de me interessar por maledicência, populices, racismos ou outras desconformidades e, certamente, seria alimentada com milhões de coisas dessas.
Não sei como se poderá parar estas enxurradas de desinformação, de superficialidade, de ordinarice, de aberração. Faz-me lembrar aquelas praias ultra-poluídas, como algumas dos países mais pobres de África, uma desgraça sem limite, as águas carregadas de lixo, as praias inundadas de detritos de toda a espécie e feitio, as pessoas, como animais, a esgravatar no meio da porcaria. Assim a comunicação nos dias de hoje. Lixo, lixo, lixo. E meio mundo a foçar no meio dessa imundície.
As instituições democráticas acabam por soçobrar perante a força da avalancha. Veja-se o que acontece com estes grupos ultra-nacionalistas, gente com aspecto troglodita, gente que nem sabe de que fala, sem conhecimentos de história, certamente gente com alguma perturbação mental, talvez traumas de infância, talvez gente mal-amada, gente que odeia os outros, gente que parece que tem prazer em fazer mal a pessoas indefesas, gente que odeia a decência, a democracia, a cultura, a inclusão, gente incapaz de gestos de bondade, de generosidade. E, no entanto, por aí andam e, estranhamente, conseguem que haja outros tantos que os apoiem. E ouvi que os serviços secretos sabem da existência destes grupos de gente má, de gente que incita e pratica a violência, e, pelos vistos, nada faz. Ouvi que há países em que estes grupos são proibidos. E acho bem. Mas não deve ser possível controlar verdadeiramente a sua existência pois este nosso mundo dispõe de alçapões e labirintos para toda a gente que gosta de se mover no mundo das trevas. A dark web, os chats e outros corredores sombrios permitem a movimentação desta gente maldosa que, em vez de se tratar, anda a espalhar o mal.
Ouço dizer que o populismo, o racismo, a xenofobia, o ultra-nacionalismo e coisas que tais se combatem com uma informação correcta, com educação, com pedagogia. Ajudará mas é lirismo pensar que isso é suficiente. Meio mundo não frequenta a aprendizagem rigorosa, não frequenta o conhecimento, não frequenta a comunicação social séria, não frequenta o mundo dos livros, não frequenta os espaços em que as pessoas falam sobre assuntos sérios e falam com vagar.
Por isso, por muito que se queira educar os ignorantes, a pedagogia não chega até eles: uns porque trabalham e chegam tarde e cansados a casa, outros porque se desabituaram de ponderar, outros, os mais jovens, porque a realidade das redes sociais, dos whatsapps e dos youtubes é a única que conhecem.
E, no entanto, eis que, no meio disto, surge uma mulher que, vestida de branco, com voz pausada e serena, diz palavras sábias, límpidas, radiosas, inteligentes.
No dia 10 não ouvi o discurso de Lídia Jorge mas mão amiga fez-mo chegar. E, embora esteja a ser amplamente divulgado, faço questão de tê-lo também aqui. Uma maravilha. As escolas deveriam divulgar amplamente estas palavras. As televisões deveriam passá-las de vez em quando. De alguns excertos deveriam ser feitos cartazes para espalhar por todas as terras.
Os países escolhem datas de referência para celebrarem a sua história, contemplando memórias de batalhas, ações de independência, encontros civilizacionais, momentos importantes em torno dos quais concitam a unidade dos cidadãos e promovem o orgulho patriótico.
Mas, em Portugal, é a data da morte de um poeta que protagoniza o nosso momento cívico de unidade mais relevante.
Muito se tem discorrido sobre o significado desta nossa singularidade e, muitas vezes, é difícil explicar que não se trata de um sinal de melancolia, mas sim do seu oposto.
Há a assunção de que um poeta do século XVI nos legou uma obra tão vigorosa que acabou por ser adotada no seu conjunto como exemplo da vitalidade de um povo e que a própria biografia do seu autor se oferece como exemplo não só de um percurso português, mas se transformou em símbolo universal da nossa peregrinação prometeica sobre a terra.
A fidelidade que Camões manteve em relação à pátria, quando se encontrava em paragens remotas, alimenta a simbologia que lhe é atribuída como exemplo da proximidade que os portugueses que se encontram longe mantêm com a sua cultura de origem.
O país retribui-lhes, reconhecendo, desde há muito, que as comunidades portuguesas são o corpo essencial do nosso ser identitário.
Mas as celebrações deste ano de 2025 têm um cunho muito particular. Em primeiro lugar, porque voltam a ter lugar na cidade de Lagos. No século passado, foi cidade anfitriã em 1996.
Passados 29 anos, esta cidade do Algarve continua a ser democrática, livre, próspera.
O que mudou e o que justifica que, de novo, tenha sido escolhida para ser palco das celebrações foi a nova consciência de que Lagos passou a representar um lugar obrigatório quando se pretende avaliar as relações entre os povos ao longo dos séculos.
É sabido que Lagos, lugar de saída para a África e lugar do comércio prático, tem como símbolo complementar o Promontório de Sagres.
A escassos 40 quilómetros de distância, Sagres e Lagos representam historicamente uma dualidade contrastiva cujo papel se encontra em avaliação.
A comunicação digital que se afirmou a partir dos anos 90 permite agora uma divulgação ampla dos estudos que os arqueólogos, antropólogos e historiadores estão a realizar neste espaço geográfico designado por Terras do Infante.
Era a altura de atribuir a Lagos, de novo, o estatuto de cidade vencedora e de apoiar estas celebrações de importância ou de interesse cultural.
Mas há outro motivo para que, este ano, a celebração deste dia seja particular. Desde há dois anos que estamos a invocar o nascimento de Camões, ocorrido há 500 anos, presume-se que entre 1524 e 1525. Calcula-se que assim tenha sido, mas vale a pena refletir sobre o facto, pois, tal como não sabemos como decorreu a sua infância, nem a sua formação, também desconhecemos o local e o dia em que o poeta nasceu.
Para sermos justos sobre a sua vida inicial, apenas podemos dizer o que um certo maestro célebre disse de Beethoven: Um dia Camões nasceu e nunca mais morreu. Nunca mais morreu.
Provam-no a forma como, passados cinco séculos, tem sido revisitado ao longo destes dois últimos anos. As escolas, a academia, o mundo da edição, os vários campos das artes e das ciências humanísticas em Portugal têm dado rosto a toda uma espécie de comemoração espontânea e informal em torno do nosso poeta maior.
Novos autores têm surgido, atualizando a exegese sobre os seus poemas e o conhecimento acumulado em torno da vida de Camões.
O jovem ensaísta Carlos Maria Bobone pôs recentemente em relevo o papel decisivo que Camões desempenhou ao fixar uma língua nova à altura de um pensamento novo que resultaria definitivamente na Língua Portuguesa moderna que hoje usamos.
Demonstrou como a língua portuguesa, manobrada no seu esplendor, resultou como uma dádiva que devemos ao grande cantor do Oceano, como lhe chamou Baltasar Estaço.
Por sua vez, a biógrafa Isabel Rio Novo, numa visita recente, profusamente documentada que faz à vida de Camões, no final, não deixa de se comover com os testemunhos sobre os últimos dias do poeta, demonstrando que as histórias que correm sobre certos passos da sua vida, afinal, não são lendas, são verdades.
O receio de sermos românticos não nos deveria afastar da realidade testemunhada. E assim, a mim, não me pareceria errado que os adolescentes portugueses conhecessem o comentário que Frei José Índio redigiu na margem de um exemplar d’Os Lusíadas, presumivelmente oferecido pelo próprio autor na hora de partir. Escreveu o frade: Yo lo vi morir en un hospital en Lisboa sem tener uma sábana com que cobrisse, despues de haver navegado 5.500 léguas per mar.
Assim foi, sem um lençol. Terá sido um amigo quem lhe enviaria a sábana, já depois de morto.
Não me parece que daí se devam retirar conceitos patrióticos ou antipatrióticos. Conceitos sobre a vida humana e seu mistério, isso, talvez.
Entretanto, por contraste, sobre a obra que deixou, milhares de páginas de novo têm sido escritas, confirmando a dimensão invulgar do poeta que foi.
Hélder Macedo, um dos seus leitores mais subtis, disse recentemente numa entrevista que, se Camões tivesse continuado a viver, ninguém mais em Portugal teria sido capaz de escrever um verso. Essa hipérbole é linda.
Assim como é reconfortante saber que os professores deste país continuam a ler às crianças epigramas, redondilhas e vilancetes de Camões, como se fossem filos modernos, feitos de palavras, o que mostra que os portugueses continuam vivamente enamorados do seu poeta maior.
Mas se o patrono destas celebrações é o poeta do virtuosismo verbal e do amor conceptual, o amor maneirista, o poeta do questionamento filosófico e teológico, como é em “Sôbolos rios que vão”, e o poeta dos longos versos enfáticos sobre o heroísmo dos viajantes do mar, ao regressarmos a todos esses versos, escritos há quase 500 anos, encontramos coincidências que nos ajudam a compreender que os tempos duros que atravessamos têm conformidade com os tempos em que o próprio viveu.
Camões, tal como nós, conheceu uma época de transição, assistiu ao fim de um ciclo e, sobre a consciência dessa mudança, no conjunto das 1.102 oitavas que compõem Os Lusíadas, 22 delas contêm avisos explícitos sobre a crise que se vivia então.
Aliás, hoje é ponto assente que o poema épico encerra um paradoxo enquanto género, o paradoxo de constituir um elogio sem limites à coragem de um povo que havia resultado da criação do Império e, em sentido oposto, conter a condenação das práticas que, passados 50 anos, impediam a manutenção desse mesmo Império.
E nesse campo pode-se dizer que Os Lusíadas, poema que no fundo justifica que o dia de Portugal seja o dia de Camões, expressa corajosas verdades dirigidas ao rosto dos poderes que elogia.
É bom lembrar que, entre os séculos XVI e XVII, três dos maiores escritores europeus de sempre coincidiram no tempo apenas durante 16 anos e, no entanto, os três desenvolveram obras notáveis de resposta ao momento de viragem de que eram testemunhas.
Foram eles Shakespeare, Cervantes e Camões. De modo diferente, mas em convergência, procederam à anatomia dos dilemas humanos e, entre eles, os mecanismos universais do poder, corpus que continua válido e intacto até aos nossos dias: sobre o poder grandioso, o poder cruel, o poder tirânico, o poder temeroso e o poder laxista.
No caso de Camões, de que se queixa ele quando interrompe o poema das maravilhas da história para lembrar a mesquinha realidade que envenenava o presente de então? Queixava-se da degradação moral, mencionava “o vil interesse e sede imiga/Do dinheiro, que a tudo nos obriga”, e evocava, entre os vários aspetos da degradação, o facto de sucederem aos homens da coragem que tinham enfrentado um mar desconhecido, homens novos, venais, que só pensavam em fazer cultura. Mais do que isso, queixava-se da subversão do pensamento, queixava-se da falta de seriedade intelectual, que resultava depois, na prática, na degradação dos atos do dia a dia.
Escreve o poeta no final do canto oitavo: “Este deprava às vezes as ciências,/ Os juízos cegando e as consciências./ Este interpreta mais que sutilmente/ Os textos; este faz e desfaz leis;/ Este causa os perjúrios entre a gente/E mil vezes tiranos torna os Reis”.
Na verdade, Camões, Cervantes e Shakespeare, de modos diferentes, expuseram os meandros da dominação, envolvidos com o tempo histórico dos impérios que viveram.
Por essa altura, sobre os reis de Portugal, Espanha e Inglaterra, dizia-se que lutavam entre si pelo domínio do globo terrestre. Ou mais concretamente, dizia-se então que os três competiam para ver quem acabaria por pendurar a terra ao pescoço como se fosse um berloque.
Os três autores perceberam bem que, em dado momento, é possível que figuras enlouquecidas, emergidas do campo da psicopatologia, assaltem o poder e subvertam todas as regras da boa convivência.
Escreveu Shakespeare no ato IV do Rei Lear: “É uma infelicidade da época que os loucos guiem os cegos”.
Enquanto isso, Cervantes criava a figura genial do alucinado Dom Quixote de La Mancha, que até hoje perdura entre nós como o nosso irmão ensandecido.
Por seu lado, Camões, no corpo d’Os Lusíadas, não falou da loucura, mas a vida haveria de lhe demonstrar que as páginas escritas por si mesmo haviam sido proféticas, em resultado dela, da loucura. O desastre de Alcácer-Quibir, ocorrido em 1578, estava assinalado numa das últimas estrofes do Canto X. Era a história, como sempre, a confirmar o pressentimento experimentado pela literatura.
No entanto, o fim do ciclo, que neste caso aqui interessa, não é mais uma transição localizada que diga apenas respeito a três reinos da Europa.
Nos dias que correm, trata-se do surgimento de um novo tempo que está a acontecer à escala global. Porque nós, agora, somos outros.
Deslocamo-nos à velocidade dos meteoros e estamos cercados de fios invisíveis que nos ligam para o espaço.
Mas alguma coisa desse outro fim de século, que se seguiu ao tempo da Renascença malograda, relaciona-se com os dias que estamos a viver. O poder demente, aliado ao triunfalismo tecnológico, faz que a cada dia, a cada manhã, ao irmos ao encontro das notícias da noite, sintamos como a terra redonda é disputada por vários pescoços em competição, como se mais uma vez se tratasse de um berloque.
E os cidadãos são apenas público, que assiste a espetáculos em ecrãs de bolso. Por alguma razão, os cidadãos hoje regrediram à subtil designação de seguidores. E os seus ídolos são fantasmas.
É contra isso e por isso que vale a pena que Portugal e as Comunidades Portuguesas usem o nome de um poeta por patrono. Por isso mesmo, também vale a pena regressar a Lagos.
Sobre estes areais, aconteceram momentos decisivos para o mundo.
No início da Idade Moderna, Lagos e Sagres representaram tanto para Portugal e para a Europa que à sua volta se constituíram mitos que perduram. O Promontório e a silhueta do Infante austero que sonhou com o achamento de ilhas e outros descobrimentos, como parte de uma guerra santa antiga, e tudo realizou a poder de persistência férrea e sagacidade empresarial, transformou-se numa figura de referência como criador de futuros. À sua figura anda associado um sonho que se realizou e depois se entornou pela terra inteira e a lenda coloca-o a meditar em Sagres.
Numa referência um tanto imprecisa, mas que permite a sua evocação, Sophia escreveu: “Ali vimos a veemência do visível/ o aparecer total exposto inteiro/ e aquilo que nem sequer ousáramos sonhar/ era o verdadeiro”.
Esta ideia de que, na mente do Infante, se processou uma epifania, anda-lhe associada enquanto mentor de uma equipa mais ou menos informal que teve a capacidade de motivar e dirigir. Sagres passou, assim, para a história e para a mitologia como lugar simbólico de uma estratégia que mudaria o mundo.
Mas existe uma outra perspetiva, como é sabido, e hoje em dia o discurso público que prevalece é, sem dúvida, sobre o pecado dos Descobrimentos e não sobre a dimensão da sua grandeza transformadora.
É verdade que a deslocação coletiva que permitiu estabelecer a ligação por mar entre os vários continentes e o encontro entre povos obedeceu a uma estratégia de submissão e rapto, cujo inventário é um dos temas dolorosos de discussão na atualidade.
É preciso sempre sublinhar, para não se deturpar a realidade, que a escravatura é um processo de dominação cruel, tão antigo quanto a humanidade.
O que sempre se verificou foi diversidade de procedimentos e diferentes graus de intensidade.
E é indesmentível que os portugueses estiveram envolvidos num novo processo de escravização longo e doloroso.
Lagos, precisamente, oferece às populações atuais, a par do lado mágico dos Descobrimentos, também a imagem do seu lado trágico.
Falo com o sentido justo da reposição da verdade e do remorso pelo facto de que se ter inaugurado o tráfico negreiro intercontinental em larga escala, como polos de abastecimento nas costas de África, e assim se ter oferecido um novo modelo de exploração de seres humanos que iria ser replicado e generalizado por outros países europeus até ao final do século XIX.
Lagos expõe a memória desse remorso. Mostra como, num dia de agosto de calor tórrido de 1444, desembarcaram aqui 235 indivíduos raptados nas costas da Mauritânia e como foram repartidos e por quem.
Alguém que, muito prezamos, encontrava-se em cima de um cavalo e aceitou o seu quinhão de 46 cabeças. Esse cavaleiro era nem mais nem menos do que o próprio Infante D. Henrique.
Lagos não se furta a expor essa verdade histórica.
Lagos também mostra o local onde depois levas sucessivas iriam ser mercadejados os escravos. E mais recentemente relata-se como eram atirados ao lixo quando morriam sem um pano a envolver os corpos. Até agora foram retirados desse monturo de Lagos os restos mortais de 158 indivíduos de etnia Banta.
Lagos mostra esse passado ao mundo para que nunca mais se repita. Talvez por isso estejamos aqui, no dia de hoje.
Aliás, a UNESCO criou a Rota do Escravo e inscreveu Lagos na Rota da Escravatura, para que saibamos como os seres humanos procedem uns com os outros, mesmo quando se fundamentam em religiões fundadas sob os princípios do amor e sob a lei dos direitos humanos.
Lagos mostra esse filme e faz-se parente de quem escreveu na porta de um lugar de extermínio moderno o pedido solene: Homens não se matem uns aos outros.
É verdade que só conhecemos o que sucedeu naquele dia 8 de agosto de 1444 porque o cronista do infante Dom Henrique o narrou. Eanes Gomes de Zurara não conseguiu evitar um sentimento de compaixão e comentou, de forma comovida, como a chegada e a partilha dos escravos era cruel. Felizmente que dispomos dessa página da “Crónica dos Feitos de Guiné” para termos a certeza de que havia quem não achasse justo semelhante degradação e o dissesse.
Aliás, sabemos que sempre houve quem repudiasse por completo a prática e o teorizasse.
O que significa que Lagos, a cidade dos sonhos do Infante de que Sagres é a metáfora, passados todos estes séculos, promove a consciência sobre o que somos capazes de fazer uns aos outros. Esta tornou-se, pois, uma cidade contra a indiferença.
É uma luta nossa, contemporânea.
Em Lagos, hoje em dia, está presente de outro modo a mensagem do cartoon de Simon Kneebone, datado de 2014, que tem corrido mundo.
A cena é nossa contemporânea. Passa-se no mar. Num navio enorme, aparelhado com armas defensivas, no alto da torre, está um tripulante que avista ao longe uma barca frágil, rasa, carregada de migrantes.
O tripulante da grande embarcação pergunta: de onde vêm vocês? Da lancha, apinhada, alguém responde: vimos da terra.
Sugiro que os jovens portugueses, descendentes de cavadores braçais, marujos, marinheiros, netos de emigrantes que partiram descalços à procura de trabalho, imprimam este cartoon nas camisas quando vão ao mar.
Consta que em pleno século XVII, 10% da população portuguesa teria origem africana.
Essa população não nos tinha invadido. Os portugueses os tinham trazido arrastados até aqui. E nos miscigenámos.
O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Cada um de nós é uma soma.
Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. Filhos do pirata e do que foi roubado. Mistura daquele que punia até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas.
A consciência dessa aventura antropológica talvez mitigue a fúria revisionista que nos assalta pelos extremos nos dias de hoje, um pouco por toda a parte.
Agora que percebemos que estamos no fim de um ciclo e que um outro se está a desenhar, e a incógnita existencial sobre o futuro próximo, ainda desconhecido, nos interpela a cada manhã que acordamos sem sabermos como irá ser o dia seguinte.
A pergunta é esta: quando ficarem em causa os fundamentos institucionais, científicos, éticos, políticos e os pilares de relação de inteligência homem-máquina, entrarem num novo paradigma, que lugar ocuparemos nós como seres humanos? O que passará a ser um humano?
Comecei por dizer que Camões nasceu e nunca mais morreu.
Regresso à sua obra para procurar entender que conceito tinha a poeta sobre o que era um ser humano. Sobre si mesmo, toda a sua obra o revela como vítima da perseguição de todas as potestades conjugadas. A sua obra lírica é uma resposta a esse abandono essencial.
Em conformidade com essa mesma ideia, ao terminar o canto I d’Os Lusíadas, Camões define o ser humano como um ente perseguido pelos elementos: “Onde pode acolher-se um fraco humano,/ Onde terá segura a curta vida/ Que não se arme, e se indigne o Céu sereno/ Contra um bicho da terra tão pequeno”.
Nestes versos, se reconhece o conceito renascentista, o da grande solidão do ser humano e a sua luta estóica contra, centrada na confiança em si mesmo.
Mas, na prática, essa atitude representava uma orfandade orgulhosa que facilmente a fortuna não reconhecia. Curiosamente, no final da vida, o corpo nu de Camões só teve um lençol, o oferecido, a separá-lo da terra. Igual à sorte do seu corpo, essa sorte não difere daquela que mereceram os corpos dos escravos aqui em Lagos.
Mas entretanto, no século XIX, o direito à proteção beneficiada pelo Estado começou a emergir. Criaram-se documentos essenciais tendo em vista o respeito pelos cidadãos. Depois das duas guerras mundiais do século XX, foi redigida e aprovada a Carta dos Direitos Humanos e, durante algumas décadas, foi tentado implantá-los como código de referência um pouco por todo o mundo. Só que ultimamente regride-se a cada dia que passa.
O conceito de representatividade respeitável da figura do Chefe de Estado, oriundo do povo grego, princípio que sustentou a trama purificadora das tragédias clássicas, a que se juntou depois o princípio da exemplaridade colhida dos Evangelhos, essa conduta que fazia com que o rei devesse ser o mais digno entre os dignos, está a ser subvertida.
A cultura digital subverteu a regra da exemplaridade. O escolhido passou a ser o menos exemplar, o menos preparado, o menos moderado, o que mais ofende.
Um Chefe de Estado de uma grande potência, durante um comício, pôde dizer: adoro-vos, adoro os pouco instruídos. E os pouco instruídos aplaudiram.
Pergunto, pois, qual é o conceito hoje em dia de ser humano? Como proteger esse valor que até há pouco funcionava e não funciona mais?
Hoje, dia de Portugal, de Camões e das comunidades, não será legítimo perguntar, sem querer ofender quem quer que seja, perguntar como manteremos a noção de ser humano respeitável, livre, digno, merecedor de ter acesso à verdade dos factos e à expressão da sua liberdade de consciência?
Nós, portugueses, não somos ricos. Somos pobres e injustos. Mas, ainda assim, derrubámos uma longuíssima ditadura e terminámos com a opressão que mantínhamos sobre diversos povos e com eles estabelecemos novas alianças e criámos uma comunidade de países de língua portuguesa. E fomos capazes de instaurar uma democracia e aderir a uma união de países livres e prósperos que desejam a paz.
Assim sendo, por certo que ainda não temos as respostas, mas, perante as incógnitas que nos assaltam, sabemos que temos a força.
Leio Camões, aquele que nunca mais morreu, e comovo-me com o seu destino, porque se alguma coisa tenho em comum com ele, que foi génio, e eu não sou, é a certeza de que partilho da sua ideia, de que um ser humano é um ser de resistência e de combate. É só preciso determinar a causa certa.
Muito obrigada.
[Discurso de Lídia Jorge. Lagos, 10.Junho.2025]